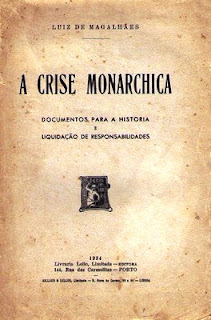No
seu livro A Crise Monarchica: Documentos
para a Historia e Liquidação de Responsabilidades (Porto: Livraria Lello
Lda., 1934), Luís de Magalhães (1859-1935) expõe o seu ponto de vista relativo
à sucessão de D. Manuel II.
Se
a doutrina constitucional e a leitura histórica que apresenta no seu livro
anterior (Tradicionalismo e Constitucionalismo, 1927) merecem a minha inteira concordância, as opiniões
expressas em A Crise Monarchica já me
afastam dele. Sobretudo nas pp. 169-179 deste livro, Magalhães explica porque não
aceitou o reconhecimento de D. Duarte Nuno como sucessor de D. Manuel II. As
razões que apresenta, nomeadamente da preferência dos outros descendentes de D.
Pedro IV naturalizados brasileiros e alemães, são difíceis de aceitar e parecem
demasiado condicionadas por uma dificuldade pessoal de aceitar um descendente
de D. Miguel na chefia da Casa Real.
Tendo
em consideração que Luís de Magalhães participou, em nome de D. Manuel II, nas
negociações com os representantes de D. Duarte Nuno de modo aproximar os dois
ramos da Casa de Bragança – e que essa aproximação implicava superar a
inconstitucional Lei do Banimento (1834) –, parece-me que esta atitude se deveu
mais à infeliz evolução desses contactos e aos seus meandros políticos do que a
uma rejeição inicial e de princípio contra a possibilidade de reconhecer em D.
Duarte Nuno o ramo colateral legítimo, em vista da falta de descendência do
último rei aclamado.
As
razões dinásticas e legais invocadas por Magalhães contra aquela aceitação não
convencem com argumentos sólidos e desenvolvidos do ponto de vista sucessório.
Nada do que Magalhães escreve me leva a questionar o que defendo nestes E.D.N., §37). Aparentemente, Luís de Magalhães sobrepôs a um
critério puramente dinástico – o consagrado no artigo 88.º da Carta – um
ressentimento político que, na realidade, se devia mais à acção pouco digna de
certos “monárquicos” de fresca data apoiantes de D. Duarte Nuno do que ao
próprio príncipe.
Parece-me
ainda que as consequências da posição de Magalhães neste seu livro – defendendo
um autêntico vazio dinástico, sem escolha de pretendente por alegadamente não
existirem condições políticas óptimas para reconhecer o novo príncipe chefe da
Casa Real e da Dinastia Histórica (a reunião de Cortes sob a Carta restaurada) –
seriam perniciosas e perigosas para a instituição real. Tal posição seria
também contra-natura em relação à
instantaneidade da sucessão, que deve caracterizar a instituição real no seu
aspecto hereditário. Se se tivesse dado razão neste ponto a Magalhães, ainda
hoje não poderia haver chefe da Casa Real nem pretendente dinástico à coroa!